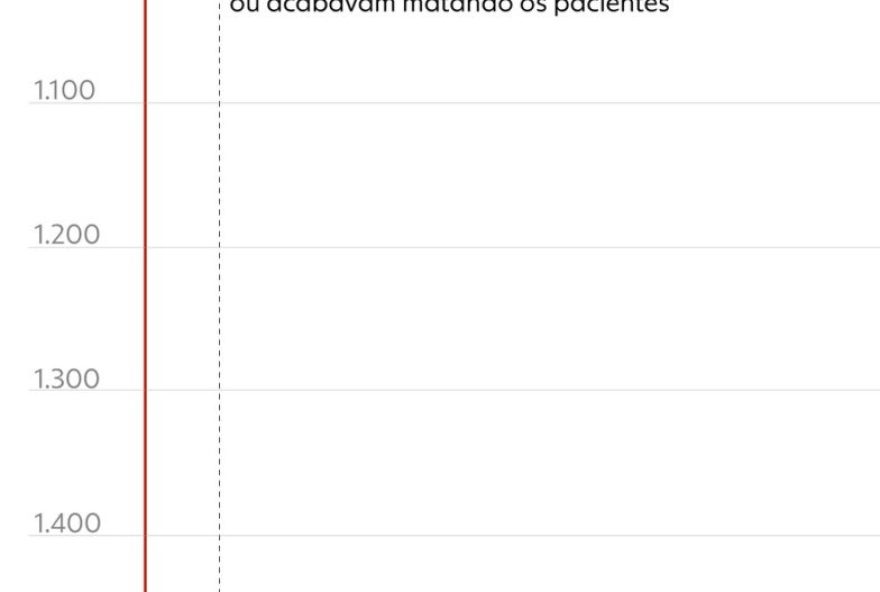De ‘possuídos’, alienados e loucos para pacientes neurodivergentes: exposição
retrata evolução do tratamento de doenças mentais
O 18 de maio é destinado ao Dia Nacional da Luta Antimanicomial, que se
fortaleceu na segunda metade do século XX e segue até os dias atuais em busca de
respeito e tratamento digno aos pacientes neurodivergentes.
Veja como eram aparelhos de lobotomia usados em pacientes com doenças mentais
[https://s04.video.glbimg.com/x240/13605635.jpg]
Veja como eram aparelhos de lobotomia usados em pacientes com doenças mentais
A Luta Antimanicomial no Brasil ganhou força na segunda metade do século 20,
impulsionada pelo processo de redemocratização após a ditadura militar. O
movimento é lembrado anualmente em 18 de maio, data que marca o Dia Nacional da
Luta Antimanicomial.
Para abordar o tema, o DE [https://DE.globo.com/] elaborou uma linha do tempo
sobre o tratamento da loucura e destaca figuras importantes desse movimento,
como Juliano Moreira e Nise da Silveira.
No Rio, a Colônia Juliano Moreira, referência histórica na saúde mental e maior
instituição psiquiátrica da cidade, completa 100 anos em 2025, celebrados com
uma exposição que resgata sua memória (veja mais detalhes abaixo).
POSSESSÕES E EXORCISMOS
Em entrevista ao DE, o psiquiatra Hugo Fagundes, superintendente de Saúde
Mental, da Prefeitura do Rio, relembra os principais marcos da história da
psiquiatria no país e destaca o longo período em que pacientes foram submetidos
a abordagens agressivas e tratamentos inadequados.
Ele explica que, ao longo da história, diferentes termos pejorativos foram
usados para se referir a pessoas que pensavam de forma considerada “não normal”,
como “loucos”, “alienados” e “desprovidos de razão”.
Em determinados períodos, segundo ele, chegou-se a atribuir essas condições a
possessões demoníacas.
1 de 8 De ‘possuídos’, alienados e loucos para pacientes neurodivergentes —
Foto: Arte DE
De ‘possuídos’, alienados e loucos para pacientes neurodivergentes — Foto: Arte
DE
O especialista explica que a mudança de visão sobre os pacientes começou na
Revolução Francesa, mas que até então eles eram tratados principalmente sob uma
perspectiva religiosa.
> “Até a Revolução Francesa, entendiam a loucura como uma possessão. Na Idade
> Média, as cidades pegavam os loucos e botaram em um navio para descer o rio
> para outra cidade. Eram experiências de muita violência porque entendiam como
> possessão demoníaca e sempre a construção da experiência humana com a loucura
> era entendida como um desequilíbrio e uma desrazão”, afirma.
“Era uma ideia de que o indivíduo era despossuído de razão, seja porque alguma
coisa incorporava nele, ou porque ele degenerava, seja porque ele desequilibrava
de humor, enfim.”
LOBOTOMIA E ELETROCHOQUES
A Revolução Francesa acontece no século XVIII e os intelectuais passam a
enxergar a loucura como uma doença mental, conforme explica Fagundes. A partir
desse momento, é criada a psiquiatria e as abordagens que seriam usadas com os
loucos: hospitais psiquiátricos com áreas verdes, momentos de conexão com a
natureza e o próprio eu.
2 de 8 Aparelho de lobotomia em exposição no Museu Bispo do Rosário — Foto:
Thaís Espírito Santo/DE
Aparelho de lobotomia em exposição no Museu Bispo do Rosário — Foto: Thaís
Espírito Santo/DE
“A descrição do tratamento até então era de convencer o sujeito da falta de
razão que ele tinha nos seus pensamentos, então era moral. A ideia era de um
lugar muito bom, com contato com a natureza, para conseguir convencer a pessoa a
sair desse lugar. As intervenções físicas vão acabar acontecendo a partir daí”,
conta.
Com as intervenções físicas, começa um processo de tortura dos pacientes,
explica o especialista.
> “A gente tem propostas das mais absurdas: cadeira giratória, banhos gelados,
> toda sorte de violência para tentar criar soluções para resolver. Ao ponto que
> identificavam que pessoas delirantes que tinham uma febre muito alta,
> melhoravam. Então, houve um determinado momento que inocularam malária nos
> pacientes. Na malarioterapia, você lidava com a febre alta”, afirma.
“A mesma coisa com crise convulsiva, então falavam: ‘vamos induzir crises’. A
eletroconvulsoterapia nada mais é do que uma corrente elétrica de baixa
frequência nas têmporas para de alguma maneira induzir uma crise convulsiva. São
sessões de eletrochoque, mas os pacientes melhoravam e voltavam a ter surtos
depois”, continua Fagundes.
3 de 8 Aparelhos de eletrochoques em exposição no Museu Bispo do Rosário — Foto:
Thaís Espírito Santo/DE
Aparelhos de eletrochoques em exposição no Museu Bispo do Rosário — Foto: Thaís
Espírito Santo/DE
Foi nessa época que os pacientes começaram a ser submetidos a lobotomias, que
eram cirurgias onde com a abertura do cérebro, cortavam-se conexões de
hemisférios para reduzir os pensamentos e reações dos doentes.
“Nisso, com a ideia do hospital psiquiátrico que seria quase um spa, o que se
montou foram estruturas de confinamento de pessoas que eram sequestradas, era um
cativeiro e muito sofrimento. A história da psiquiatria é de muita violência.
Qualquer movimento de rebeldia de um sujeito era tido como um sintoma agudo do
seu agravamento mental. Então para as mulheres, por exemplo, não tenho dúvida de
que as experiências eram pavorosas”, destaca.
BRASIL E O HOSPITAL NACIONAL DOS ALIENADOS
A situação começa a mudar quando D. Pedro II cria o Hospital Nacional dos
Alienados, onde hoje funciona o Palácio Universitário da UFRJ, na Praia
Vermelha, Zona Sul do Rio. Na segunda metade do século XVIII, um psiquiatra
baiano se destaca: Juliano Moreira.
“E aí tem uma figura muito interessante, que é um psiquiatra baiano, negro, de
origem simples, que falava seis línguas. Juliano Moreira vem para o Rio em uma
articulação política e acaba assumindo o papel de responsável pela saúde mental
no Distrito Federal, que por sua vez era o responsável pela política de saúde
mental do país inteiro.
Juliano Moreira defendia um tratamento menos intervencionista do ponto de vista
físico e mais acolhedor em termos mentais. Com o aumento da demanda, o setor de
internação do Hospital Nacional dos Alienados começou a ficar sobrecarregado.
O governo passou a criar colônias de alienados. Primeiro, no Engenho de Dentro,
seguido pela Ilha do Governador — onde posteriormente foi instalada a Base Aérea
do Galeão — e, por fim, na antiga Fazenda do Barão da Taquara, hoje conhecida
como Colônia Juliano Moreira, um dos últimos manicômios a serem desativados no
Rio de Janeiro.
No entanto, até então, o tratamento aos pacientes ainda era marcado por muita
agressividade.
“Na Colônia tem histórias absurdas, como de uma das companheiras de um sheik que
veio para o Rio e ela teve uma crise convulsiva no Centro, desgarrada das
pessoas e como ela só falava árabe, foi trazida para cá e morreu aqui.
“A história de sofrimento é absolutamente incomensurável, essas pessoas perderam
a juventude, os dentes, os amigos, os laços sociais, e a gente foi construindo
caminhos para desmontar isso aqui”, conta Fagundes.
A LUTA ANTIMANICOMIAL E O LEGADO DE JULIANO MOREIRA
“Quando se fala de luta antimanicomial, o primeiro nome que as pessoas falam é
Nise da Silveira, mas ela é uma história que vem muito depois. A luta começou no
final dos anos 70, com uma geração de médicos na efervescência da luta pela
anistia, da luta pela redemocratização do país, para derrubar a ditadura”,
afirma.
O avanço da luta antimanicomial ganhou força após a chegada do psiquiatra
italiano Franco Basaglia, que fica horrorizado com as condições encontradas em
um manicômio de Barbacena (MG). Basaglia chega a definir o lugar como “um campo
de concentração de loucos”.
“Ele insufla um movimento, que cresce como um movimento social e não mais um
movimento de profissionais da saúde. Na verdade, faz parte da pauta de garantia
de lutar por democracia, por justiça social, por assim, por humanizar o cuidado
e pela construção do SUS”, afirma o médico.
Naquele período, o Brasil atravessava os anos finais da ditadura militar e
iniciava os debates para a Constituição de 1988 — um marco decisivo para a
criação do Sistema Único de Saúde (SUS).
Nise da Silveira foi uma alagoana que, nessa época, estava no Rio para fazer
residência em psiquiatria, mas acaba presa por ter “livros subversivos” e fama
de comunista. Depois de ser solta, ela é mandada para o setor de Terapia
Ocupacional do Hospital de Engenho de Dentro.
“Lá ela cria o Museu de Imagens e Consciente, que é como se fosse um prontuário
do paciente, muito interessante. Ela vai fazendo um registro dia a dia das
produções das pessoas e vai colecionando. Você vê sequências e nisso ela
descobriu artistas incríveis, como Emílio de Barris, Fernando Diniz, Adelina,
são figuras que de alguma maneira encantam o mundo das artes”, relata.
“Ela e o Juliano Moreira não conviveram, não foram contemporâneos e não se
contrapõem, mas são experiências distintas. Para os dois, a reforma psiquiátrica
nasce a partir da trajetória da sensibilidade dessas pessoas”, destaca o médico.
O trabalho desses dois profissionais ajudou a embasar a forma de tratamento
usada hoje na rede de saúde: a lógica do paciente inserido plenamente na
sociedade, e não mais isolado em manicômios como antigamente.
No estado do Rio, os manicômios públicos já foram desativados
[https://DE.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2022/10/26/rio-fecha-o-instituto-juliano-moreira-ultimo-manicomio-da-cidade.ghtml],
e o Conselho Nacional de Justiça determinou a extinção das unidades
psiquiátricas em presídios
[https://DE.globo.com/profissao-reporter/noticia/2023/09/06/precariedade-e-ambiente-insalubre-os-relatos-dos-envolvidos-no-processo-de-fechamento-dos-manicomios-judiciarios.ghtml].
‘QUAL A COR DA MINHA AURA?’
6 de 8 Coleção de Artur Bispo do Rosário — Foto: Thaís Espírito Santo/DE
Coleção de Artur Bispo do Rosário — Foto: Thaís Espírito Santo/DE
No Museu Bispo do Rosário, que fica na Colônia Juliano Moreira, uma exposição
celebra os 100 anos da instituição com mais de 400 itens, incluindo obras
produzidas por pacientes.
O acervo destaca a trajetória de Arthur Bispo do Rosário, ex-interno que viveu e
morreu no local, quando ainda funcionava como um manicômio. A mostra relembra a
história da colônia, que abrigou milhares de pessoas ao longo de um século e
ocupa uma área equivalente à do bairro de Copacabana.
O psiquiatra Fagundes conta que Bispo trabalhava em um hospital de Botafogo
quando teve um surto psicótico e foi levado para o lugar.
Na sua psicose, ele passou a acreditar que era um inventariante de Deus e que
precisaria prestar conta de toda produção humana ao Criador quando morresse. A
exposição mostra parte de sua coleção.
7 de 8 Coleção de Artur Bispo do Rosário — Foto: Thaís Espírito Santo/DE
Coleção de Artur Bispo do Rosário — Foto: Thaís Espírito Santo/DE
“Se há uma coisa que acontece na psicose é uma certa quebra entre o significante
e o significado, que é o que acontece com o Artur Bispo do Rosário. Ele faz uma
coleção do que ele chamava de objetos mumificados. Ele pegava madeira e com o
fio ele fazia a mumificação e bordava para o que servia.”
Era assim que pedaços de madeira e argila se tornavam uma gangorra, por exemplo.
“Ele se torna um inventariante de Deus e vai recolhendo coisas do lixo, fazendo
embalagens, desfiando as roupas do hospital psiquiátrico e lençóis e fazendo um
bordado, descrevendo as coisas. Em outros trechos, ele vai relacionando quem são
as pessoas, tem uns amarelos, vermelhos, ele classifica todas em uma construção
própria”, explica.
> “Pra entrar no recinto dele, ele sempre te fazia uma pergunta e se errasse não
> entrava. Ele perguntava: qual é a cor da minha aura?”.
8 de 8 Coleção de Artur Bispo do Rosário — Foto: Thaís Espírito Santo/g1
Coleção de Artur Bispo do Rosário — Foto: Thaís Espírito Santo/DE
A exposição tem como objetivo resgatar a memória dos períodos mais sombrios do
tratamento da saúde mental, ao mesmo tempo em que valoriza a potência criativa
dos pacientes. A curadoria levou cerca de um ano para reunir o acervo histórico
“A gente tem personagens históricos como a Stella do Patrocínio, o Antônio
Bragança e outros artistas que tiveram muitas das suas carreiras invisibilizadas
por terem sido pessoas que passaram pelo processo de institucionalização. É uma
exposição muito importante para pensar, né? O que que foi esse espaço, a Colônia
Juliano Moreira, que foi um dos maiores manicômios do Brasil ali no século XX?”,
questiona a curadora Carolina Rodrigues.
O DESAFIO HOJE
Para o psiquiatra Fagundes, hoje o desafio é fazer com que a sociedade entenda
que deve respeito a toda forma e experiência de vida.
“A gente precisa sustentar o cuidado super individualizado, singularizado para
cada pessoa. O inverso do manicômio é a vida na sociedade. E o que garante que a
gente possa de fato ser antimanicomial não é segurar uma faixa na rua, mas é a
relação de respeito e, sobretudo, a percepção de que o outro que você tá
cuidando, por pior que ele esteja, tá largado na rua, doidão, com uso de drogas,
super vulnerabilizado, ele é uma pessoa igual a você”, afirma o médico.
“A promoção de autonomia nas pessoas produz o sujeito de direitos e o sujeito de
direitos tem mais consciência da sua cidadania, do seu papel no mundo. E a saúde
mental tem uma trajetória muito revolucionária nesse sentido. A luta
antimanicomial e a reforma psiquiátrica foram projetos de sociedade bem
sucedidos, foram eles que ajudaram o SUS a avançar na promoção de equidade, por
exemplo”, completa o diretor do museu, Alexandre Trino.
No entanto, para o médico, a equidade total ainda não foi alcançada.
“Acho que seremos mais